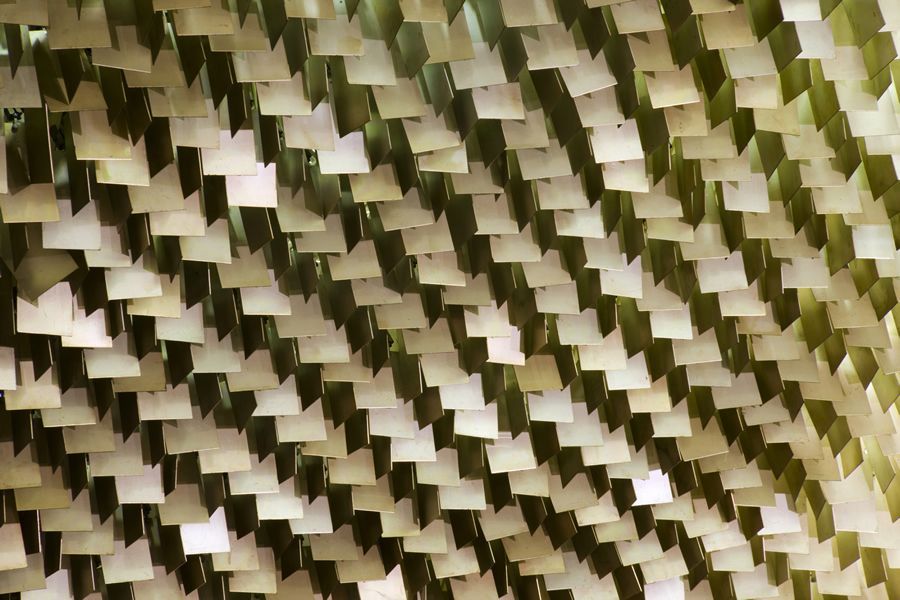PRONTIDÃO ELEITORAL

Correio Braziliense e Estado de Minas – domingo, 26 de maio de 2019.
A guerra e sua preparação são partes essenciais da maneira com que os governos dos EUA se relacionam com o mundo. O estudo de 1986, que mencionamos no artigo anterior sobre a participação do país nas últimas cinco guerras em que estiveram envolvidos até então, apresenta também outro dado curioso. Quanto maior fosse o efeito negativo e desorganizador no dia a dia dos americanos, maior punição eleitoral sofreriam os políticos envolvidos no conflito. E que tal maldição recaía mais sobre o presidente do que sobre os parlamentares, mas afetava todos aqueles “associados” com a guerra. A conclusão do artigo era de que tal conhecimento talvez resultasse numa menor participação dos EUA em guerras dali para frente.
Entretanto, em janeiro de 1991, os EUA invadiam o Iraque numa operação com várias características que mudavam completamente o engajamento popular com guerras. A CNN fazia cobertura ao vivo do conflito pela primeira vez. O nível de tecnologia empregado diminuía drasticamente o uso de soldados americanos no campo de batalha. Ainda assim, eram 500 mil soldados, muito mais do que os utilizados hoje em dia nas guerras de drones. Mas, já em março, a Guerra do Golfo chegava ao fim. A aprovação de Bush pai, logo após o que o Pentágono considerou um fim bem-sucedido da curtíssima operação, extrapolou os 90%. Todavia, caiu muito rapidamente, por conta de confusões domésticas, e ele perdeu a reeleição em 1992. Parecia que as ideias do artigo estavam certas.
Entretanto, mais gente teorizava sobre ajustes finos que fizessem uma coisa ajudar e não atrapalhar a outra. George W. Bush, o filho, chegou à Presidência em janeiro de 2001. Em dezembro daquele ano, a aprovação de Bush alcançava 86%, a maior taxa de aprovação no fim do primeiro ano de mandato entre todos os presidentes americanos, de acordo com medições da Gallup feitas a partir de Eisenhower em 1953. Isso só aconteceu por conta do ataque sofrido por Nova York em 11 de setembro daquele ano. Antes do ataque, a aprovação do presidente estava em um pouco mais de 50%. Medições após o ataque mostraram o apoio acima de 90%. Bush invadiu o Iraque em 2003 e se reelegeu em 2004, em meio a uma guerra que durou até 2011.
A aprovação de Trump está no patamar mais alto de seu mandato — descontado o primeiro mês —, mas ainda abaixo de 50%. Os passarinhos lhe dizem que um conflito internacional próximo da eleição dará conta do recado, porque os ganhos do momento — ainda que se esvaiam rapidamente — são enormes se tiver pretexto claro compreendido pelo eleitorado. Para muitos, pretexto se fabrica. O problema é que a aceleração da inquietude que a guerra traz é incontrolável.
Por mil razões, muitas delas, aqui apontadas, a contra o Irã é o plano A. Por conta de contexto regional, a Venezuela é o plano B. Tanto Venezuela quanto Irã precisam de mudanças nas péssimas lideranças que têm para se tornarem países melhores para seus povos. Entretanto, uma mudança que venha por imposição militar externa — especialmente quando é politiqueira e interessada em petróleo, nos dois casos — só tende a abrir chagas que sangrarão por muito mais tempo.
No caso do Irã, as instituições brasileiras, em especial as Forças Armadas e o Itamaraty, têm pouco a contribuir. É importante lembrar que, sem nenhuma superioridade de poder, o governo brasileiro, entre 2009 e 2010, errou ao interferir na dinâmica da disputa entre EUA e Irã. Certeza excessiva é péssima conselheira em política e em diplomacia. Somos uma sociedade aberta, mas, por conta exatamente disso, não podemos passar recibo de desinformados a respeito dos arranjos globais, sob pena de terminarmos apenas com cara de pouco influente. O país persa tem forte lobby e presença nos EUA. Sabe tim-tim por tim-tim o que a administração americana atual pensa e quais são as forças a serem contactadas para se evitar uma desgraça. Desgraça que seria, no longo prazo, para os dois lados. Mas há sempre os cálculos e interesses imediatistas.
A Venezuela é um caso totalmente diferente. É nosso vizinho. Não dos EUA. São cerca de 2.200 quilômetros de fronteira conosco. A fronteira geopolítica dos EUA no continente é o Panamá. Nossas Forças Armadas sabem que não podem permitir conflito militar internacional aqui na América do Sul. É o mínimo que fazemos, e bem, manter a paz na nossa região. Infelizmente, a situação lá se agravou ao longo das últimas décadas em parte por culpa do Brasil, mas também dos EUA. Lá, sim, cabe uma atuação, do Itamaraty, principalmente, e das Forças Armadas, pelos canais multilaterais do sistema da ONU, para se garantir a transição de governo sem permitir que tenhamos um campo de guerra no nosso subcontinente, para uso da imprevisível campanha presidencial nos EUA.